A crítica em tensão: literatura e história – Por Pedro Meira Monteiro
Obra de erudição e intervenção, Entre
a literatura e a história oferece uma paisagem ampla e profunda da crítica
de Alfredo Bosi.
Reunindo ensaios, prefácios, depoimentos e entrevistas, o
livro se organiza em feixes temáticos que iluminam o balanço e a tensão entre a
história e a literatura. Mesmo para os leitores assíduos de Bosi, os textos já
conhecidos ganharão nova espessura, como se o conjunto atasse as linhas de um
discurso que indaga o poder da literatura diante de seus condicionamentos
sociais e históricos. Juntos (re-unidos), os textos são devolvidos ao solo
comum que os gerou, onde a literatura se descobre reflexão, jamais puro
reflexo, da experiência humana.
A prosa límpida e segura abre caminhos
diversos, que vão da crítica à história literária, dos discursos ideológicos à
reflexão sobre o pensamento, com paradas que exigem do escritor posicionamento
ético e moral diante do presente.
Não à toa, quase ao centro da
obra, operando como uma mó que afia as ideias, vê-se um daqueles interregnos
italianos tão ao gosto de Bosi, onde encontram-se Vico e Leopardi. O primeiro,
a enfrentar o impasse entre a valorização do artifício retórico, que o barroco
exaltava, e a abstração da razão, que imperava no cartesianismo de seu tempo. O
segundo, a apontar, contra a fábula romântica do sujeito sentimental e único, o
valor da fabulação mítica nos clássicos.
Em sua solução de compromisso
entre o artifício e a razão, aprendemos que, para Vico, as figuras “não são
meros ornatos, mas expressões desentranhadas do conhecimento sensível” (p. 133).
Quem não vê aqui, como que prefigurada, a paixão do crítico pelo real sensível
que nos engaja no mundo? Não se trataria da práxis como a experiência
humana concreta que, 200 anos depois de Vico, Gramsci transformará na base de
sua concepção da cultura como espaço de emancipação? Em Vico, a fantasia,
que a leitura platônica tende a desqualificar, alia-se à memória e ganha foros
transformadores, criando um mundo que, conquanto imaginário, jamais se
desprende totalmente do real.
No cultivo da memória, o acontecido se
ressignifica e a literatura se ergue, já não ornato ou codificação cerrada, mas
como espaço de criação a partir da história, a mesma história que
dispara a voz do crítico diante das urgências do contemporâneo: a energia
nuclear, a educação, a religião, o Estado, a ditadura, a violência, a fome, a
democracia, o socialismo, a militância na América Latina.
Já em Leopardi a imaginação se
projeta no mito como motor da poesia. Em seu isolamento enfermiço, o
poeta não repete, contudo, o gesto que se consagraria na figura do gênio
romântico, martirizado pela nulidade do mundo. A paisagem, para Leopardi, é
porta de acesso a outro tempo, quando a beleza “rebrota” no instante em que a
palavra poética ressoa.
A poesia cumpre a mais nobre função para o crítico, que
compreende amorosamente o isolamento de Leopardi, assim como procura ver, em
João Cabral, como o poema logra dar forma e sentido ao drama do sujeito histórico,
com o qual o poeta simpatiza e se comove, dos cassacos de engenho aos severinos
seus contemporâneos. Movimento, em suma, propiciado pela literatura, sempre que
se escavam as razões do sujeito nas “paixões do cotidiano e nas figuras da
memória”.
Penso, a esse respeito, na brilhante análise da leitura do mundo e do
impacto da escrita em Infância de Graciliano Ramos, no “balé
brasileiro da intimidade assimétrica” detectado num conto de Mário de Andrade,
no horizonte desinvestido de qualquer transcendência em Lygia Fagundes Telles,
no idealismo liberal-democrático do jovem Machado de Assis logo tingido pela
melancolia, na proximidade da morte em Reventós, na irrupção do sujeito na
poesia fugaz e ágil de Ferreira Gullar, no jogo entre distância e proximidade
que rege a viagem poética de Cecília Meireles. Penso, ainda com Bosi, nos
rasgos sorelianos de Mariátegui, que jamais descuidou do mito enquanto
lavrava, em seu tempo e lugar, o solo do marxismo.
Se reforço a importância do
núcleo “italiano”, é por nele perceber a razão de ser e a tarefa da literatura diante da
história: devolver, ao sujeito, a singularidade de seu sofrimento e de sua
alegria diante do tempo roaz. Não se trata de reduzir o livro a tal núcleo, mas
de ali buscar alguns dos móveis do pensamento de Alfredo Bosi.
É assim que, ao
recatar-se contra o império da forma (os “moinhos de letras e castelos de
cartas” [p. 219] em que se perderiam as vanguardas), o crítico reclama para a
literatura a função de revelar o “dentro” do sujeito, oferecendo-lhe aquela
linguagem eficiente capaz de restituir “dimensões originárias de radiante
clareza e rara intensidade” (p. 22). Para tanto, é mister reagir ao império da
ideologia, aceitando porém que ela é constitutiva do texto, assim como, em
Croce, a fantasia e o conceito, a poesia e a lógica pertencem “ao mesmo fluxo
da vida e do espírito humano”. A ideologia, enfim, é sempre parte da
literatura, mas jamais será “o núcleo vivo, o fogo, a alma da sua poeticidade,
que é intuitiva, figural, imaginária” (p. 249-50).
A atenção à linguagem não descura
da longa duração das formações ideológicas, como se vê no inédito “As
ideologias e o seu lugar”, diálogo rápido e cortante com Roberto Schwarz.
Atentando para a imbricação entre ideias liberais e escravismo em escala global,
Bosi relativiza o aspecto “farsesco” atribuído à presença daquelas ideias no
Brasil, as quais se dividiriam, na segunda metade do século XIX, entre um
liberalismo “excludente, escravista” e outro, “democrático, abolicionista”,
cujo porta-voz mais ilustre foi Joaquim Nabuco.
Não haveria então “por que
isolar o Estado brasileiro como caso único e farsesco da coabitação da
ideologia liberal com uma prática escravista. Cá e lá… o lugar dessa triste
fusão era o do capital fundiário e da rede de interesses comerciais e políticos
que o reproduziam” (p. 239).
No trânsito das ideias, os interesses econômicos e
as injunções sociais pesam, mas o sujeito pode se libertar ou se deixar cingir
pelas malhas da ideologia, que confunde o interesse de uma minoria com o desígnio
nacional.
É o desígnio nacional, ou talvez
devesse dizer-se o desígnio da maioria, que dá lastro a uma das seções
mais fortes do livro: aquela, justamente, das “Intervenções”, umbilicalmente
ligada à seção anterior, “Ideologias e contraideologias”. Ali, a visada alerta
e penetrante varre com indignação os temas que importam na história do Brasil.
E o compasso do espírito se abre generosamente: onde leitores apressados
pensariam encontrar tão-só o intelectual católico, campeão da teologia da
libertação em seus momentos críticos, descobre-se o admirador da longa história
do positivismo no Brasil e na França.
Atualizadas pelo “altruísmo” de Comte, as
raízes saint-simonianas teriam brotado no Apostolado, carreando simpatias para
a luta da classe trabalhadora que a República oligárquica brasileira
maltratava. A história é farta em complexidade e paradoxos, já que o sopro
original do experimento republicano brasileiro é positivista, embora a
República não se reduza a ele.
Tampouco é casual que a educação
reponte como tema-chave nessas intervenções e que a compaixão pelos
professores, desrespeitados por políticas públicas bisonhas, faça par à análise
simpática das diretivas educacionais da Carta de 1934, a única, ao lado da
atual Constituição, a inscrever a ampliação da instrução popular num futuro
inclusivo. Em 1934 teria vencido momentaneamente a tendência “popular e
socializante” do veio positivista gaúcho, cujas contradições se projetam na
figura singular de Vargas e se acentuam no Estado Novo.
Mas os experimentos de fundo
democratizante que mal se iniciaram em 1930 foram esmagados pelo golpe de 64, e
é dos escombros desse futuro em disputa que fala Bosi, em textos escritos entre
a década de 1980, em plena abertura política, e nosso próprio tempo. Em todos eles,
assim como nos vários textos que esta resenha sequer arranhou, dá-se o
exercício daquela “fantasia organizada”, feliz expressão que Celso Furtado
encontra em Valéry (p. 323). Mas aqui o “planejamento” é de outra ordem, mais
agônica, porque o crítico não tem nas mãos os instrumentos capazes de alterar o
rumo da história. Ou talvez tenha, e os vislumbre, quando enlaça objetividade e
utopia, selando a ética daquele que “deveria viver em permanente tensão”.
Pedro Meira Monteiro é
professor titular de literatura brasileira na Princeton University. É autor,
entre outros, de Mário de Andrade e Sérgio Buarque de Holanda:
correspondência (Companhia das Letras/ Edusp/Instituto de Estudos
Brasileiros, 2012).
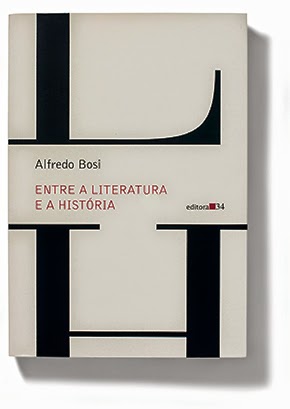

Comentários